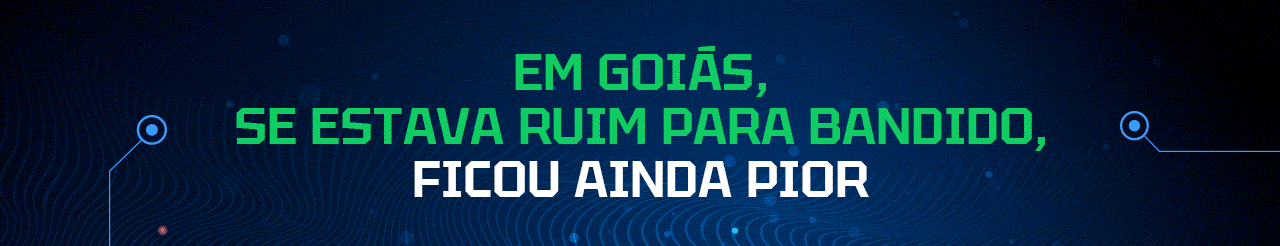O SUS na mira da Agenda Brasil: o que está em jogo

O documento chamado de “Agenda Brasil”, apresentado pelo presidente do Senado à presidente Dilma Roussef, no dia 10 de agosto de 2015, com o intuito de introduzir uma agenda positiva em meio à grave crise política que vive o país, contempla várias temas que afetam diretamente o SUS, a Previdência e outras políticas sociais. Ele também se refere a outras importantes questões, mas, neste espaço, trataremos apenas daquelas que atingem especialmente as políticas sociais.
A primeira “sugestão”, que se destaca na leitura do documento e que não está merecendo a devida atenção daqueles que têm se manifestado a respeito do documento, integra o item “Equilíbrio Fiscal” e diz claramente: “favorecer maior desvinculação da receita orçamentária dando maior flexibilidade ao gasto público”. Os constituintes, que elaboraram a Constituição de 1988, tiveram o cuidado de assegurar que as receitas das contribuições de todos os tipos (sobre os salários, sobre o faturamento e o lucro), bem como dos concursos e prognósticos (jogos de azar) fossem de uso exclusivo da Seguridade Social, que compreende a Previdência Social, o SUS, a Assistência Social e seguro-desemprego. No caso do seguro-desemprego, 40% da arrecadação do PIS/PASEP seriam destinados ao BNDES para empréstimos que favorecessem a geração de emprego e renda; mas esses recursos eram (e são) do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que é responsável pela gestão do seguro-desemprego, devendo a ele retornarem quando devido. Na Constituição, ainda, está definido que “a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos” (artigo 212). Nos dois casos, da Seguridade Social e da Educação, trata-se de modalidades de vinculação.
Como sabido, em 1994, quando do lançamento do Plano Real, houve uma primeira investida contra os recursos da Seguridade Social (SS), quando o então ministro Fernando Henrique Cardoso, criou o Fundo de Emergência Social (rebatizado de Fundo de Estabilização Fiscal num primeiro momento e depois firmando definitivamente o nome de Desvinculação das Receitas da União), que definiu que 20% da receita de contribuições e impostos fossem de livre aplicação do governo federal. Isso significou, na letra da “lei”, uma perda de 20% da receita das contribuições que anteriormente destinavam-se exclusivamente para financiar as políticas sociais que são contempladas pela Seguridade Social. Agora, na Agenda Brasil, a ampliação dessa desvinculação claramente está posta.
A ojeriza à vinculação é um dos principais pontos de um programa de cunho neoliberal, avesso a fazer compromissos com o social e defensor do “controle /comando” completo das contas públicas de modo a dispor de instrumental para sempre honrar “os contratos”, isto é, dos credores da dívida pública, seja ela externa ou interna.
A preocupação com o nível de vinculação existente no Brasil, bem como com os gastos decorrentes de direitos estabelecidos, tal como a despesa com aposentadoria, sempre esteve presente em todas as negociações com o Fundo Monetário Internacional. Não é por acaso que, após o acordo realizado com essa instituição ao final de 1998, o “verdadeiro” nome tenha sido finalmente assumido: Desvinculação das Receitas da União. Assim, aquilo que inicialmente tentava parecer como algo que iria contribuir para atender problemas sociais emergenciais (lembremos, o primeiro nome foi Fundo Social de Emergência), mostrava, finalmente, sua verdadeira face e intenção. O objetivo sempre foi o de desvincular as receitas. Como agravante, os defensores da desvinculação demonstraram que as receitas de contribuições nunca foram por eles entendidas como receitas dos trabalhadores, destinadas a cobrir as situações de doença, invalidez, desemprego, velhice, entre outras. Afinal, para eles, as receitas são da União.
Mas além do aqui mencionado, fruto direto da Constituição de 1988, também está em jogo a vinculação dos recursos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios ao SUS. Afinal, pelo menos 12% dos recursos disponíveis dos Estados e Distrito Federal devem ser aplicados na saúde pública por força da Lei Complementar 141. No caso dos municípios, esse percentual aumenta para 15%. Já a União, deve destinar valor correspondente ao empenhado no exercício anterior, acrescido da variação do PIB. Aplicado a Agenda Brasil, está garantia representada por essas vinculações podem se constituir letra morta. Não nos esqueçamos de que a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que gera a Lei Complementar 141, demorou 12 anos para ser realizada. Isso é indicativo da dificuldade enfrentada para introduzir sua completa vinculação e, portanto, que não são poucos os contrários a ela.
A segunda “sugestão”, presente no item Proteção Social do documento diz: “Avaliar a possibilidade de cobrança diferenciada de procedimentos do SUS por faixa de renda. Considerar as faixas de renda do IRPF”. Trata-se de introduzir o co-pagamento no SUS. Não foram poucos os que se manifestaram contra essa sugestão até o momento em que este artigo estava sendo elaborado e, por isso, no espaço desse artigo, são feitas apenas algumas considerações sobre o que está em jogo. O próprio Movimento da Reforma Sanitária, formado pelas instituições comprometidas com a saúde pública, tais como a Abrasco, a Abres, o Cebes, entre outras, rapidamente se organizou para, publicamente e em conjunto, se manifestarem contra o que pode vir a ser a total destruição dos princípios fundadores do SUS: universalidade e gratuidade. Se implantada essa “sugestão”, não só a gratuidade das ações e serviços do SUS torna-se letra morta, como se corre o risco de se introduzir no interior do SUS a segmentação do serviço, fruto da capacidade de renda diferenciada daquele que busca sua atenção. A saúde brasileira, já segmentada pela presença de um setor privado importante e pelo eterno subfinanciamento do SUS, tornar-se-ia ainda mais segmentada. Muito longe do que havia sido pensado quando da criação do SUS.
Por último, seria necessário se mencionar a “sugestão” da “ampliação da idade mínima para aposentaria”, presente no item “Equilíbrio Fiscal” e não no de “Proteção Social”. Este fato, por si só, denota que a aposentadoria é entendida como um assunto exclusivamente fiscal, o que é inadmissível para aqueles que acompanham e pesquisam as políticas sociais. A sugestão de ampliação da idade mínima da aposentadoria não é novidade, tal como as outras aqui tratadas, e sua implantação pode ser entendida como uma perda de direitos dos trabalhadores. Mas, do meu ponto de vista, o mais grave é que ela irá agravar as desigualdades existentes no país, pois irá tratar de forma igual àqueles que são desiguais na sua trajetória junto ao mercado de trabalho, que muito cedo começam a trabalhar.
* Rosa Maria Marques é professora titular da economia da PUCSP e presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABrES)
Fonte: Abrasco